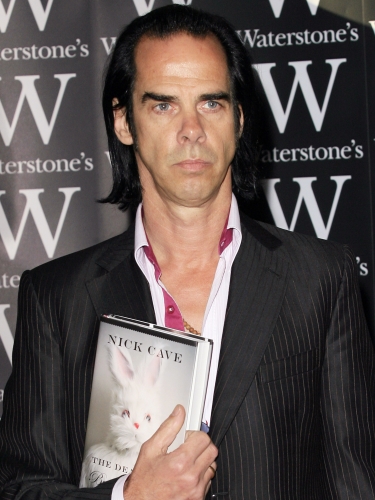Bagunça sagrada
Daniel Benevides
 Não seria mau criar uma religião para arrumar os livros que teimam em se acumular nas paredes, em pilhas verticais, horizontais e diagonais, e despencam na cabeça com frequência bem maior que os meteoros. Mas teria de ser uma religião politeísta e onitolerante. Assim, os autores-deuses teriam seu lugar garantido na frente da estante e jamais seriam jogados fora.
Não seria mau criar uma religião para arrumar os livros que teimam em se acumular nas paredes, em pilhas verticais, horizontais e diagonais, e despencam na cabeça com frequência bem maior que os meteoros. Mas teria de ser uma religião politeísta e onitolerante. Assim, os autores-deuses teriam seu lugar garantido na frente da estante e jamais seriam jogados fora.
Já os escritores terrenos, não sendo “de referência”, poderiam passar para as fileiras do fundo, no purgatório de madeira, ou, caso já bem lidos, ser gentilmente doados, não por desprezo teológico, mas porque o espaço e o tempo, como sabemos, são relativos (ou, diante das novas experiências, pós-relativos). O milagre da arrumação seria uma realidade empírica e até cientificamente comprovada.
Bastaria ser um devoto fanático, para eliminar o apego às coisas pedestres e tornar compulsório o estudo das escrituras sagradas. Estas, é claro, variariam de acordo com o fiel seguidor e com o estágio de vida de cada um.
No meu caso, as escrituras certamente estariam longe de ser sagradas no sentido pontifícico. Após um escrutínio íntimo e saudavelmente leviano, vi que meus deuses, ao menos nessa semana, seriam Beckett, Bolaño, Ballard, Tolstoi, Szymborska, Drummond, Kundera (como ensaísta), os Roth (Philip e Joseph), Vittorini, Duras, Carrère e Le Clézio.
Mas, como eu disse, varia. Nada impede que, daqui a um mês ou dois, Dalton Trevisan, Pynchon, Musil e Coetzee subam ao Olimpo das prateleiras que ficam mais ao alcance da mão. Aliás, Coetzee, pensando bem, já está. Assim como os caros Tony Judt, Bertrand Russell e Fausto Wolff.
O importante mesmo é identificar os mortais – especialmente os já lidos, e dispensá-los com leveza na alma, sem culpa nem arrependimento.
Sempre teremos a opção digital, no caso de querermos ressuscitá-los, por alguma razão afetiva (dedicatória, presente, guilty pleasure, amizade com o signatário da obra) ou erro de não-canonização. Lázaros literários, teriam sua segunda chance na ponta dos dedos. A justiça divina estaria resguardada.