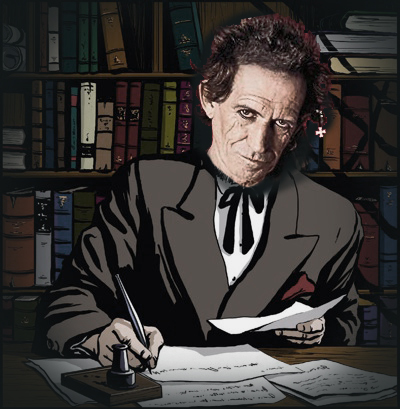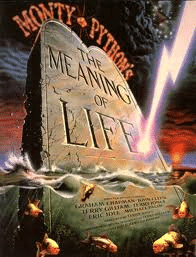Nirvana, REM e o Rio do suposto Rock
Daniel Benevides
Não vi nada do Rock in Rio, o que talvez não tenha feito diferença. Pro festival com certeza não fez. Se fez pra mim, é algo que tenho que debater com meus botões. Como estou de zíper e camiseta, fica pra amanhã.
O pouco que sei foi por tabela. Li, por exemplo, o ótimo texto do Maurício Stycer. E vi a Christiane Torloni “chapadona” dando entrevista pra Globo.
O vídeo ilustra o texto à perfeição. Stycer pergunta: “cadê a rebeldia do rock”? Tá na Torloni? Tá no discurso do Dinho Ouro Preto? No “merchan” do A. Kiedis? Tá no rock macarrônico do Mike Patton?
Mais fácil encontrar rebeldia na Rihana. O que me leva ao Nirvana e ao REM.
 Duas bandas irmãs, duas bandas incríveis, mas que de certa forma, e involuntariamente, como lembra o filósofo José Rodrigo Rodriguez, talvez sejam responsáveis pela pasmaceira reinante.
Duas bandas irmãs, duas bandas incríveis, mas que de certa forma, e involuntariamente, como lembra o filósofo José Rodrigo Rodriguez, talvez sejam responsáveis pela pasmaceira reinante.
Isso porque foram eles (e os Pixies) que puseram melodia no punk e levaram o mundo do rock alternativo ao topo das paradas. Sem querer, deixaram que a Billboard, representante mais visível da indústria, engolisse a rebeldia, tal como Saturno a seus filhos.
Kurt Cobain, apesar de buscar conscientemente o sucesso, nunca se deu bem com essa idéia depois que ela virou realidade. Seu espírito autodestrutivo se revelou em shows como aquele do Hollywood Rock em São Paulo, em meados dos anos 90.
Eu trabalhava na MTV nessa época e vi ele de perto. Um cara bacana, franzino, de ombros curvados e uma expressão inofensiva, mas com um ligeiro brilho maníaco no olhar.
Seus parceiros, Dave Grohl e Krist Novoselic, com quem conversamos (o grande reverendo Fabio Massari e eu, atrás da câmera) pareciam viver num suspense contínuo, sem saber quando o coração de “Kurtz” Cobain mergulharia nas trevas.
Foi um show inesquecível. Não no sentido positivo, pelo som, mas pela visão de um sujeito de grande talento perder o controle (ou controlar sua perda) e chutar, socar, espatifar o balde. A gente não sabia, mas talvez desconfiasse: era um dos muitos sintomas de um suicídio anunciado.
Nevermind, o disco-razão de tudo isso, fez 20 anos. Hoje toca em elevador de shopping. Precisa dizer alguma coisa?
Um dos interlocutores de Cobain era Michael Stipe, vocalista e letrista do REM, a quem ele admirava. O REM foi por muito tempo afinal, bem antes de Losing my Religion, uma autêntica banda de garagem com cérebro, um “rótulo” que não ficaria mal no próprio Nirvana.
Não lembro se conheciam-se bem, lembro que se falavam muito ao telefone. Depois veio o tiro no céu da boca, o bilhete mítico, o novo belo cadáver do pop (hoje já substituído por Amy W.)
E agora o REM acabou, deixando muitos órfãos. Não me incluo entre eles, ainda que concorde com a amiga Nina Lemos: o quarteto de Athens fez a melhor trilha (ou uma delas) da nossa geração.
Na verdade achei bom que o REM tenha acabado. O mundo está mais careta. É preciso encontrar novas formas de rebeldia. E o REM conseguiu atravessar esses tempos sem um único disco ruim no currículo (e com pelo menos duas obras-primas). É muito mais do que fez a maioria das bandas.
Os três (já que em 97 um aneurisma levou o batera Bill Berry de volta pra roça) devem ter cansado: do rock, das longas turnês na estrada, da convivência forçada entre eles, das obrigações contratuais, de gritar para os surdos.
Tô escrevendo em círculos, mas a palavra que liga tudo isso acho que é autenticidade. Algo não muito fácil definir, mas que tanto o REM como o Nirvana tinham de sobra e faziam questão de não perder.
Pra isso, a saída de um foi o suicídio. A de outro foi a permanência digna no palco, sem abrir mão de seus princípios.
O REM já tocou no Rock in Rio, na terceira edição, assim como Grohl e seu Foo Fighters. Foi um grande show, como quase todos do REM que se tem notícia. Não sei se Christiane Torloni estava lá.
Eu não vi.