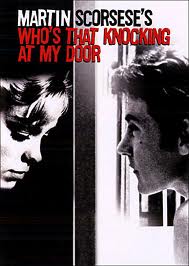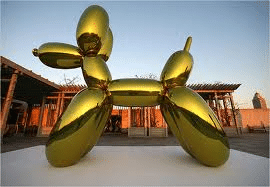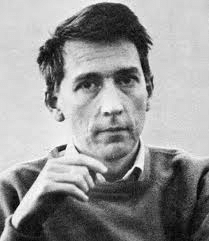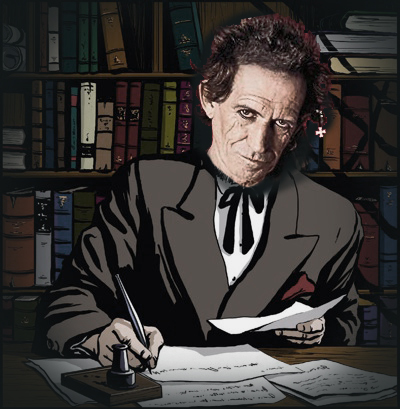As polaroides de Gainsbourg
Daniel Benevides
Tive o prazer de ser convidado pela Cassiana Der Haroutiounian para escrever no seu ótimo blog de fotografia Entretempos . Resgatei o texto:
Lembro até hoje da sensação de segurar uma máquina polaroid nas mãos.
Era um formato estranho, anguloso, com uma fenda horizontal na frente, que mais parecia a boca de um sapo. Branca, tinha, se não me engano, umas faixas em preto, amarelo e vermelho.
Meio teletransportadora, a máquina atingia o ser ou objeto à sua frente com um raio, e o aprisionava em duas dimensões; alguns segundos depois, o sapo mostrava a língua.
Uma moldura branca, feita de algum tipo de papel duro, envolvia uma superfície indefinida, que parecia meio molhada.
Segurando com os dedos em pinça na borda, abanávamos a foto com ansiedade, eufóricos com a mágica que se faria.
De repente, como se viesse do fundo de um lago, conseguíamos divisar pequenos indícios de que uma imagem estava se formando. Era realmente mágica, não tinha outra explicação.
Em menos de um minuto se dava a revelação – e, por mais que já soubéssemos o que seria, era sempre uma revelação, como se víssemos os futuro na borra do café, ou nas entranhas de uma ave.
Bem, tudo isso para contar do meu fascínio pela polaroid. E qual não foi minha surpresa ao ver as imagens que Serge Gainsbourg, de quem sou (ou era) um humilde discípulo, havia feito com aquele mesmo aparelho que tanto havia marcado minha pré-adolescência?
Minha admiração pelo autor de “Je t’aime moi non plus” aumentou ainda mais. Quer dizer: ele pintava e desenhava bem, escreveu um romance, havia criado um estilo até hoje único na história da música pop, tinha casos com as mulheres mais lindas do planeta e ainda era craque na polaroid???
Essa imagem da musa Jane Birkin é minha favorita. Tanto quanto o próprio Gainsbourg, que era uma versão dândi do sujeito dividido entre suas porções Jeckyll e Hyde (brilhante e canastra, romântico e misógino, lírico e cínico, pai amoroso e alcoólatra canalha, velho rabugento e doce como uma criança), Jane curvada sobre o próprio corpo nu provoca impressões as mais diversas e aparentemente contraditórias: é, ao mesmo tempo sensual e infantil, simbólica e carnal, feminina e andrógina, sugere a mulher fértil (como em Klimt, uma influência provável, assim como seu amigo Egon Schiele) e a mulher-feto, força e fragilidade.
E é linda. Uma mão na vagina, outra na cabeça, como a ligar os dois polos da nossa existência. O cabelo curto fazendo contraste com a boca carnuda, o tom da pele, claríssimo, destacando-se num fundo bem escuro, como se flutuasse no ventre do nosso desejo, preparando-se para despertar com força arrebatadora na nossa imaginação.
Não tem outra palavra: é foda.